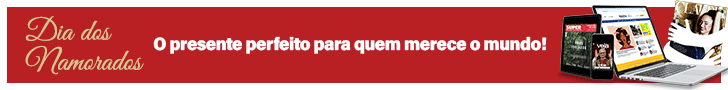Quando recebi convite para ir aos Estados Unidos, no ano passado, eu só pensava em Nova Iorque. Na verdade, eu só pensava no Harlem. Certo, pensei bastante sobre o processo da imigração e reuni todos os documentos possíveis e imagináveis para ter comigo, porque nunca se sabe. Mas, deu tudo certo. E assim que eu cheguei na sala de embarque da minha escala em Atlanta, eu só pensava que teria dois dias em Washington D.C. e que, logo, partiria para a minha terra dos sonhos. Eu tinha uma lista imensa de livros para comprar, mas como toda leitora contumaz, eu também levei livros. Dentre eles, “O quarto de Giovanni”, de James Baldwin, que eu havia lido pela primeira vez no final de 2018. Eu precisava dessa experiência com as palavras frescas de Baldwin em minha mente.
O levei em minha viagem de ônibus da capital até a big apple, pouco menos do tempo de ir de ônibus de São Paulo para o Rio de Janeiro. A sorte foi tão boa, que consegui uma passagem promocional e que me deixaria direto no Brooklin, onde ficaria hospedada. Nada como o google maps para nos dar um sentido de liberdade e me fazer, em empolgação, andar da parte “asiática” do Brooklin até a parte “russa”, o que me fez passar pela parte “judaica” e por um pedacinho da “hispânica”. Reli mais outras palavras em uma parada para um “chafé” com rosquinha. Dois dias depois, eu pisava no Harlem e logo veio à mente o trecho “Meus ancestrais conquistaram um continente, atravessando à força planícies cobertas de cadáveres, até chegar a um oceano que não dava na Europa, e sim num passado mais obscuro”. É assim que, logo na primeira página, James Baldwin nos recebe.
Assisti a uma apresentação de jazz – e eu juro que ainda falarei de Marjorie Eliot e seu Parlor Jazz por aqui – no mesmo prédio que morou Duke Ellington, passando por ruas que pisaram Billie Holiday, Malcolm X e… James Baldwin. Eu só poderia chorar e chorei. Em cada nota de jazz que saía do piano de Miss Eliot, em cada verso de poema recitado pelos seus parceiros de parlor, eu só chorava. E as palavras de Baldwin ressoavam em mim, “O amor derruba as máscaras que tememos perder, mesmo sabendo que não podemos viver com elas. Eu uso a palavra ‘amor’ não no sentido pessoal, mas como um estado de estar ou um estado de graça – não no sentido infantil americano de ser feliz, mas em seu sentido bruto e maior de busca, de ousadia e de crescimento”.
James Baldwin que completaria, hoje, 96 anos foi um literato e intelectual público, que formulou e realizou críticas severas a ideia de sonho americano. Afinal, quem usufruía do sonho americano em uma sociedade segregada, em que negros viviam, e vivem, processos de marginalização e sob controle e violência policial?
Em 1948, conseguiu duas bolsas de estudos e se auto-exilou em Paris. De lá, publicou seu primeiro romance “Go hell it on the mountain”, premiado pela Fundação Guggenheim. Já ali, ficou presente como seria a proposta literária de Baldwin, em uma escrita ficcional que parte de suas experiências, dos ambientes por onde viveu e passou como forma de sintetizar e formular sobre o mundo. Em 1957, voltou aos Estados Unidos na crescente dos movimentos pelos direitos civis. Produziu ensaios, outros romances, como o poderoso “The fire next time”, de 1963, que ficou por 41 semanas na lista de mais vendidos do The New York Times. Em 1968, voltou para a Europa, após o assassinato do líder Martin Luther King. As mortes de Medgar Evers, Malcom X e Martin Luther King, todos seus amigos, atravessaram fortemente Baldwin e suas reflexões sobre a sociedade norte-americana e a condição do negro.
De 1974 é o seu livro “Se a rua Beale falasse”, em que retrata a vida de um casal jovem de Nova Iorque, diversas tensões familiares, de gênero, raciais, sobre a violência e sobre o cárcere como instrumento de interrupção das vidas negras. O escritor também enfrentou diversas críticas, seja de liberais, seja de lideranças negras radicais, por ser abertamente homossexual e não abrir mão de permear sua produção intelectual com a interseccionalidade dos temas. Para Baldwin, não era viável falar sobre liberdade, nem mesmo apresentar diagnósticos sobre a sociedade estadunidense sem falar sobre sexualidade, gênero, raça, classe de modo interdependente.
O documentário do diretor Raoul Peck, “Eu não sou seu negro” concorreu ao Oscar e o filme “Se a rua Beale falasse”, adaptação de seu livro homônimo, dirigida por Barry Jenkins, rendeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante para a talentosíssima atriz Regina King.
Tanto a produção política quanto literária de James Baldwin tem recebido mais atenção. E já não era sem tempo. Ao ler ou escutar cada palavra proferida pelo escritor, seja literária ou política, é como se ele ainda estivesse ecoando diante das problemáticas persistentes em nossos cotidianos. James Baldwin fala de si e conseguiu transcender sua experiência em cada um de nós, como ferramenta para incitar reflexão, formulação, propostas e modelos de ação.
No momento em que chorei, sentada em um banco de cimento, em frente a biblioteca da Columbia University, depois de um dia passando por lugares em que muitas das minhas referências e tantas histórias se passaram – assim como chorei quando passei pelo local em que morou Machado de Assis, no Rio de Janeiro e em tantos outros de figuras históricas – eu pensava muito em James Baldwin e no tanto que ainda temos de caminhar para construir a sociedade que ele almejava e que nós tanto precisamos. Ele segue necessário. E sempre caminhará comigo.


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO


 Estas mulheres resgatam refugiados no Mar Mediterrâneo
Estas mulheres resgatam refugiados no Mar Mediterrâneo