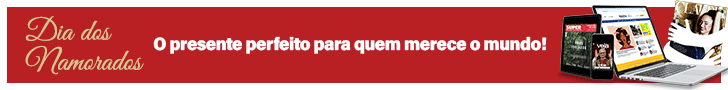Às vezes ler, assim como escrever, é como matar a sede. Queremos, não, precisamos engolir tudo, preferencialmente gelado, de uma só vez. Uma urgência que beira o sofrimento. Às vezes ler, tal qual escrever, é como degustar um prato saboroso, esperar derreter o chocolate na boca, passar a língua nos lábios para sentir mais um pouquinho do gosto. Foi assim, com deleite, que atravessei as páginas de Blue Nights e, finalmente, conheci melhor Joan Didion.
Quantas e quantas vezes e pessoas e posts já tinham me falado dela — a autora — e sobre ele — o livro. Era quase tão certo que eu iria adorar que mal tinha vontade de que esse momento chegasse, como quem guarda num potinho uma certeza, como quem espera a festa. Comecei sem pressa, mas logo estava na metade do livro, absolutamente tomada pela crônica triste e inteligente, e irônica e leve e triste. Uma mistura improvável e tão harmoniosa que quase não percebia incômodos de tradução ou estranheza narrativa. As palavras, escritas originalmente em inglês por uma mulher bem-sucedida, americana e famosa, tinham tudo para ser distantes. Mas não são.
As palavras chegaram delicadas, sem deixar de cortar os pulsos da dor, do medo maior, da tragédia. É triste. Puta merda, como é triste. Mas é lindo. Lindo pra caralho. E valho-me dessas vulgaridades porque elas expressam com mais precisão o que senti. Não criaremos jamais um sinônimo possível para “lindo pra caralho”. Nada chega a isso.
As memórias de uma mulher. As lembranças de uma mãe. Tudo o que morre, tudo que sobrevive. Tudo que é dor e amor ao mesmo tempo e que faz a vida ter e também perder o sentido. O vazio, a completude. Esses opostos que teimam em dialogar com cada pequena parte das nossas contradições. O desejo de escrever assim: como quem flutua com asas de chumbo. Onde as letras parecem de algodão, mas as frases têm a densidade do adeus.
Apreciar o livro de Joan Didion como quem toma um vinho na melhor temperatura, harmonizado, mas sem frescura. Saborear as notas da importância dos azuis, do esvaecer, do que se dissipa, sem jamais deixar de existir nem de faltar. Um filho. Jamais se acaba de perder, ainda que permaneça inteiro no solo impossível da eternidade.


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO