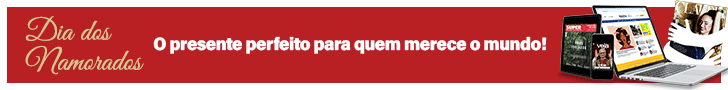Como dizia o Belchior, eu tinha “25 anos de sonho, de sangue e de América do Sul”. Estava casada, pagava boletos e tinha um blog chamado “A dor e a delícia de ser o que é”. No meu post inaugural, disse que me sentia antiga, “da época do Telex”, e confessei que nunca havia publicado textos pessoais na internet.
Era 2006, eu sabia que minha parte “delícia” era escrever, ainda que a experiência profissional como jornalista já tivesse asfixiado em parte a minha escrita autoral. O blog durou 6 anos. A última publicação foi uma letra de música do Herbert Vianna que diz: “e tudo muda, adeus velho mundo”. A canção de despedida marcava ali a dor “de ser o que é” no exato dia seguinte à morte da minha mãe.
Por coincidência, daquelas que só Freud explica, um mês depois eu lançava meu primeiro site pessoal, batizado de “Cara de Mãe”. Era um portal onde escrevia sobre maternidade. Havia colunistas, informações sobre gestação, parto humanizado e amamentação – frutos de um mergulho que começou após o nascimento da minha primeira filha.
Aquele foi o ano em que perdi o chão, a mãe, o emprego e todas as certezas. Por algum tempo escrevi, apesar dos escombros. Pouco a pouco, o silêncio foi se impondo à mim. Eu me questionava: tinha mesmo algo a dizer? Num café com uma conhecida jornalista entrei em apneia ao ouvi-la dizer: “um site dificilmente te dará dinheiro”, “pra funcionar você precisará escrever muito e muito bem” e “fazer publicidade para marcas desalinhadas com seus valores”. Saí da padaria molhada, e a água era fria.
Logo descobri que temer era um atalho para realizar profecias, e medo não me faltava. Tinha medo da exposição, do julgamento externo, do confronto com minha própria autocrítica. Medo de ficar aquém ou, pior, de ir além. Dominada por um conhecido censor interno, severo, me calei. Parei de escrever. Tirei o site do ar. Assumi um cargo público no ano seguinte.
Sem ar, vez ou outra, a escrita me tomava por arrebatamento, desejo de esvaziar, necessidade ou impulso. Era preciso oxigenar o cérebro, organizar o pensamento, ditar ritmo ao coração, fazer circular a energia vital. O processo de desenhar letras acontecia sem ritual, em qualquer bloco de notas ou folha de rascunho pelo caminho. Daquelas páginas soltas – rascunhadas no ônibus, nas horinhas de descuido ou de almoço – surgiam vestígios de uma nova história. Tudo o que a princípio soava como lamento foi se abrindo em fendas, portais de entendimento, vozes há tanto caladas – da dor ao desejo.
Estava, enfim, processando o luto da minha mãe, da mãe que me tornei, da mãe que nunca tive nem seria, dos sonhos que abandonei, de um corpo de mulher que precisava renascer. E como creio em vida após a morte reencarnei em palavras. Primeiro, era o verbo. Hoje inflo os pulmões, dou passagem ao ar que, por entre cordas vocais, se torna voz. Acolho a solidão no papel, traço sentidos e liberdades e passo a limpo recém-nascidas inspirações. Agora escrevo (e respiro) profundamente.


 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO