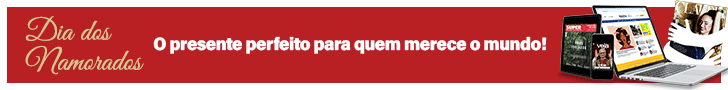“O que mais se tem é portas fechadas nas nossas caras”, afirma a jornalista e cineasta Camila de Moraes, que foi a primeira mulher negra em cartaz nos cinemas comerciais em 34 anos.
A ideia do documentário “O Caso do Homem Errado” que venceu o troféu de melhor filme no Festival Internacional de Cine Latino, Uruguayo y Brasileiro, surgiu em 2010. A inspiração veio na faculdade, na disciplina de jornalismo investigativo. A história é real e fala sobre o caso de Júlio César de Melo Pinto, que foi executado pela polícia em 1987, em Porto Alegre, depois de ser confundido com um assaltante.
Após algumas recusas, o documentário teve sua produção realizada apenas em 2016. A partir daí, começa a saga de exibi-lo em festivais. “No audiovisual, se não tivermos esses selos de qualidade por passar em festivais e premiações a produção não era considerada filme nacional”, conta Camila.

O filme esteve em dois festivais, mas depois não foi selecionado para nenhum outro. “Ficamos conhecidos como um filme militante de pessoas negras denunciando o que nos mata todos os dias”, explica. “Começamos a questionar quem eram essas pessoas que organizavam esses festivais, selecionavam e premiavam os filmes, e entendemos a panelinha do cinema: pessoas brancas com poder aquisitivo e homens comandando, em sua maioria”, conta a cineasta, que teve um longo caminho para chegar ao sucesso.
Ela inicia então um circuito comercial independente, a fim de levar “O Caso do Homem Errado” para outros estados além do Rio Grande do Sul, onde foi produzido.
“Fizemos esse trabalho durante todo o ano de 2016 e conseguimos levar para outros cantos do Brasil. Assim, entramos para a lista de pré-selecionados do Oscar”, conta ela.
O reconhecimento pelo árduo trabalho enfim chegou e Camila conseguiu levar o documentário para o Rio de Janeiro e São Paulo. “A trajetória do filme tem seguido e conseguimos levar a discussão de que nós negros queremos viver e não sobreviver”.
Mas nem sempre essa história se repete quando falamos sobre o trabalho de profissionais negros do cinema. Camila é filha de uma atriz e um jornalista e, mesmo tendo contato com a cultura e a arte desde pequena, suas produções não aconteceriam se não tivesse entrado na faculdade por meio das cotas raciais. “Foi dentro desse universo que eu tive condições de produzir, porque fora do ambiente acadêmico isso não seria possível”.
Camila lançou na última quinta-feira (12) o piloto de sua nova série de ficção “Nós Somos Pares”, que conta história de 6 mulheres negras, envolvendo amizade e relacionamentos afetivos. A intenção é mostrar a mulher negra e suas particularidades, longe de qualquer estereótipo.
A diretora e cineasta Sabrina Fidalgo é filha do dramaturgo Ubirajara Fidalgo e da atriz Alzira Fidalgo que juntos na década de 70 fundaram o Teatro Profissional do Negro (T.E.P.R.O.N), no Rio de Janeiro. Tudo o que Sabrina viveu e aprendeu com os pais, foi fundamental para a construção política e social do seu trabalho. “ Desde criança estive nas peças dos meus pais, o teatro foi a minha segunda casa. Dentro de casa eles eram muito engajados no movimento negro, meu pai sempre escreveu sobre a negritude no Brasil e as problemáticas. Desde criança eu sempre tive uma construção política e artísticas ligadas à negritude”, conta a diretora.
Sabrina teve contato com o cinema na Alemanha, onde morou por 7 anos. Lá fora ela se desenvolvia e fazia documentários e ajudava os alunos com projetos. Mas foi o filme de ficção Black Berlim que a lançou definitivamente no mercado cinematográfico. “O curta teve muita visibilidade e passou em diversos festivais pelo mundo, ganhou prêmios no Brasil e ma Alemanha, e foi meu passaporte para me tornar conhecida”, explica ela, que logo após o lançamento abriu junto a sua mãe a Fidalgo Produções. “Eu sou fruto de um projeto político, meus pais eram um casal negro que queriam construir uma família negra”.

Um novo divisor de águas surgiu em sua carreira. Depois de produzir o filme “Rainha”, Sabrina se consolidou como diretora e mostrou para o mundo toda a sua construção política e talento, que era incentivado por seus pais desde a infância. “Esse filme me colocou em um lugar muito diferente de tudo. Me tornei o que eu sou dentro do cenário do cinema graças a ele”. Realizado há 4 anos, o curta já foi exibido em mais de 200 festivais e levou a cineasta para toda a América Latina, ganhando 20 prêmios.
Seu último trabalho foi o curta-metragem “Alfazema”, lançado em outubro de 2019 e é a segunda parte da “Trilogia do Carnaval”, que começou com o filme “Rainha”. Muita coisa mudou desde o seu primeiro lançamento até o mais recente.
O racismo no audiovisual
Uma recente fala da roteirista Antônia Pellegrino levantou uma indagação: onde estão os profissionais negros do audiovisual? Para Camila, essa é uma resposta fácil de ser respondida, já que o que realmente acontece é o apagamento desses trabalhos. “A trajetória do meu documentário é a prova desse sistema de invisibilidade. As pessoas impedem a nossa presença nesses espaços. É um desrespeito e o não abrir mão dos seus privilégios”.
Antônia falou, em entrevista ao UOL, que não há um Spike Lee ou uma Ava DuVernay no Brasil, e sua colocação invisibiliza uma série de profissionais negros que estão trabalhando há anos para serem reconhecidos – além de não respeitar a singularidade de cada um deles. Não é possível comparar a trajetória de uma pessoa com a outra, mesmo que estejam na mesma área de atuação.
Mas não foi apenas a fala que gerou incomodo. Antônia escolheu José Padilha para dirigir o projeto da série ficcional sobre Marielle Franco. Ele mesmo diretor responsável pela série “O Mecanismo”, que enaltece a atuação do juiz Sérgio Moro na operação Lava Jato. Um combo certeiro para toda a comunidade negra se manifestar a respeito.
“Quando a série foi anunciada fizeram diversas críticas, mas eles não queriam escutar. Esse tipo de ação é o pequeninismo. Pessoas com poder aquisitivo lucrando em cima das nossas dores. Transformam as nossas lutas diárias em cifras”, diz Camila.
“Isso é parte do projeto do racismo estrutural de não abrir espaço para pessoas negras e promover o genocídio não só físico como intelectual, cultural e espiritual”, explica Sabrina.
Para mudar um cenário que se repete há séculos, a população negra tem se movimentado em busca de ações afirmativas, que ainda são pequenos passos. Em 2016 surgiu a APAN – Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, uma das articulações que promove esse debate no cenário cinematográfico. Existe também um projeto de lei que propõe cotas para negros e indígenas no audiovisual.
“De uns tempos pra cá estamos pleiteando essa questão da paridade racial e de gênero na Ancine, por exemplo, porque a maioria dos filmes que ganhavam os editais e eram selecionados eram de grandes produtores, filmes de homens brancos héteros e cis”, diz Sabrina. Apesar dos avanços, uma ação recente do governo pode atrapalhar as conquistas realizadas pela comunidade negra.
“Tivemos um corte de 40% da verba do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) e vai ser votada a extinção. Para nós negros está mais complicado porque quando conquistamos, fecham as portas. Existem estados que atuam com outras medidas com seus editais e linha de fomento, mas é algo menor”, explica Sabrina, que apesar de toda a estrutura que teve para produzir seus filmes, reconhece que a situação para outros profissionais negros do cinema é completamente diferente.
Camila conseguiu levar seu documentário aos cinemas comerciais graças ao próprio trabalho, mas seria diferente se tivesse tido o suporte financeiro que outros profissionais têm para suas produções. “Nosso longa foi produzido de forma independente e chegou na lista do Oscar. Se tivéssemos feito com as mesmas condições que eles, imagine onde teríamos chegado? ”.
“Nada sem nós, sobre nós. Não podem dizer que em um país onde mais de 50% da população é negra não há diretores, roteiristas, diretores negros trabalhando nessa área. Lutamos diariamente para mostrar que estamos produzindo conteúdo de qualidade”, declara Camila.
“Não posso comparar a minha trajetória com uma cineasta baiana por exemplo. O que eu posso fazer é pensar de forma coletiva e levantar ela junto comigo”, explica ela, falando sobre as particularidades de cada cineasta. “Vemos como o racismo é cruel e estrutural, porque só depois de 34 anos tivemos a produção de uma mulher negra circulando comercialmente no Brasil. Não quer dizer que não sabemos produzir com qualidade, mas que não temos as mesmas condições e oportunidades para chegar nesses espaços”, aponta a diretora de “O Caso do Homem Errado”.
“O que acontece aqui é um projeto político muito igual ao nacional socialismo alemão. O Goebbels e seu projeto eram assim. É sobre a superioridade da raça ariana e isso tem sido reproduzido aqui no Brasil de forma clara”, aponta Sabrina.