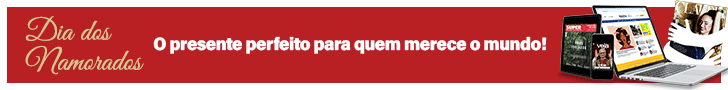Seja bem-vinda à Associação das Pretas Patrícias (APP), cujas participantes também atendem por afropatys e preticinhas. Esse espaço reúne mulheres afrodescendentes que buscam ascensão socioeconômica, pertencimento estético e conexão ampla com sua negritude.
Que fique claro: o movimento possui camadas bem mais profundas do que apenas o desejo de comprar uma bolsa de luxo. Não que essa vontade seja um problema, mas o esvaziamento da causa traz sérios danos, como, por exemplo, a conotação pejorativa do grupo, que sofre com o estereótipo da negra metida ou raivosa.

As cantoras e empresárias Beyoncé e Rihanna e as personagens Hilary Banks, da série Um Maluco no Pedaço (1990-1996), e Dionne Davenport, do filme As Patricinhas de Beverly Hills (1995), são algumas das referências para essa concepção da mulher negra próspera.
O movimento começou nos Estados Unidos, quando afrodescendentes com alto poder aquisitivo recebiam o título simbólico de príncipes ou princesas (black american princess ou BAP). Os BAPs geralmente se formavam em instituições de ensino historicamente negras, o que ressalta outro item essencial para ser considerada uma preta patrícia: a consciência racial, trabalhada em casa e nos estudos.
Mulheres negras são completamente distintas e é isso que constrói nossa expressão estética
MC Taya
Mas a jornalista e criadora do laboratório Desabafo Social Monique Evelle (@moniqueevelle), 26 anos, lembra que as BAPs têm um contexto histórico completamente diferente das brasileiras. “Elas se identificam desde sempre como pretas e entendem como se deu a segregação racial em seu país, logo, se organizaram antes. ” Outra divergência é que essas famílias já têm a situação financeira consolidada há duas ou três gerações. No Instagram, Monique, autora do livro Empreendedorismo Feminino (Memória Visual), se tornou referência para as afrodescendentes que se identificam com o que ela chama de Sindicato das Pretas Patrícias.

Pretos no topo?
Se o movimento tivesse um hino, Preta Patrícia, música da MC Taya (@mctaya), 27 anos, seria uma forte candidata. Escrita por ela no caminho para o trabalho, que fica em um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, a letra é autobiográfica e avisa: “Só porque eu sou braba e também sou a mais linda, eles ficam de cara com a minha marra de Patrícia. ”
Quando se viu faria limer, a jovem da periferia de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, percebeu que não estava só na transição para uma condição mais confortável e com oportunidades. “Era um estilo diferente do que eu vivia antes. Pegava carro de aplicativo pra lá e pra cá, ia em eventos e ganhava presentes”, lembra a criadora de conteúdo, que conquistou suas primeiras seguidoras no Facebook ao tratar de feminismo negro de forma descomplicada e com recorte de estética negra.
O interesse por moda e teatro fez com que Taya escolhesse o curso de figurino na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a pós-graduação em marketing em moda. “A meritocracia pra gente não funciona, mas a autoestima do poder transforma. Já que não nasci em berço de ouro, assim como a maioria de nós, não queria deixar de fora o estudo, que é nosso maior aliado. ”

Taya sabe que a maioria do seu público ainda não consegue usufruir dos itens e experiências de luxo que ela entoa em suas composições ou divide nas redes sociais. “Quando comecei, escutava das fãs que elas não podiam falar que eram afropatys, mas que iam estudar e trabalhar para ser uma. Só que essa aspiração já as coloca no movimento; é a determinação de lutar por suas vontades, é ostentar sabedoria”, aponta a MC.
Porém, ainda que a educação seja o principal fator para girar a engrenagem da mobilidade social, ela não dá garantia de uma vida sem adversidades às mulheres negras. Logo, a presença de figuras afrodescendentes em espaços historicamente dominados por brancos não é carta de alforria para a comunidade negra. “Temos negras como CEO, profissionais na ciência, vice-presidente, mas não significa que o racismo e machismo acabaram e a mulher negra venceu. Enquanto temos uma no topo, dez passam fome”, reforça a cantora.

Um levantamento de 2019 do Instituto Locomotiva, divulgado pela Folha de S.Paulo, apontou que mulheres negras movimentam 704 bilhões de reais por ano. Quem olha para esse público e oferece serviços e produtos que atendam às suas necessidades, sai na frente. Além do posicionamento em prol da diversidade diante do mercado, que agrega relevância, o negócio também prospera economicamente.
A saída que Monique encontrou para coexistir com o capitalismo foi o black money, ou seja, fazer o dinheiro circular entre os seus. “Não acredito no sistema econômico atual; deu errado. Mas como não posso mudá-lo sozinha, coloco dinheiro na mão de pessoas pretas, distribuindo a renda”, conta a empreendedora, que é fã do estilista Isaac Silva e não abre mão de vestir as peças do conterrâneo, também negro.
“É horrível ser a única pessoa preta em um ambiente. É tudo o que não quero. Preciso olhar para o lado e ter vários de nós. Não é sobre representatividade, mas proporcionalidade. Não é preto no topo, mas preto descentralizado e alinhado. Chega de reproduzir uma lógica que sabemos que não deu certo coletivamente”, alerta a jornalista, que nasceu e foi criada na periferia de Salvador.

Será que vale?
O medo do julgamento de que ter dinheiro significaria ser arrogante e virar as costas para o ativismo gerou culpa em Taya quando ela viu que uma base da Fenty Beauty custava metade da renda que sua mãe tinha para sustentar a família no passado. “É muito cruel pensar na cobrança da qual somos reféns, mas o que me ajuda nessas situações é lembrar o motivo que me levou a comprar um produto ou a estar em determinado lugar, como um restaurante. Posso precisar de algo por causa do meu trabalho ou apenas porque desejo muito também e está tudo certo”, revela.

A apresentadora e empresária Bielo Pereira (@hellobielo), 28 anos, de São Paulo, já está curada desse sentimento, ainda que o assunto sempre apareça entre os seguidores e em conversas com amigas. Quando era criança, ostentar marcas caras estava fora da realidade dos seus pais, que pagaram a escola particular para os filhos pensando no investimento para o futuro.
“Entre 2017 e 2018, me entendi como mulher trans, preta e gorda maior. E minha forma de expressão era ser perua. Aceitei que não só podia, mas deveria ter os produtos que sonhava”, lembra a influenciadora, que agora já tem mais parcimônia com os seus gastos.
A faculdade de lazer e turismo, feita na Universidade de São Paulo (USP), trouxe ensinamentos sobre investir em experiências. “Cresci em uma família unida e procuro retribuir o que dedicaram a mim da melhor forma. Hoje, posso me presentear com um fim de semana em um hotel na companhia da minha mãe”, celebra Bielo, que colhe os frutos da sua produção de conteúdo na internet sobre beleza, questões raciais, body positivity e identidade de gênero. “Tinha medo, mas agora sinto que meu caminho é comunicar minha liberdade de maneira didática.”
Tchau, rótulos

Por causa de um acidente capilar aos 15 anos, que resultou em um corte químico tenso, a criadora de conteúdo e empresária Magá Moura (@magavilhas), 32 anos, conheceu Domenica, profissional responsável por suas box braid e outros tipos de tranças há mais de 10 anos. “Na época, ninguém usava trança, mas era isso ou voltar para a escola quase careca. Já era eleita a mais feia da sala, imagina o que iria acontecer comigo. Não tinha nenhuma autoestima”, lembra a empresária.
A relação das duas inspira cada vez mais mulheres negras a fazerem as pazes com seus cabelos, conhecendo suas texturas naturais e criando uma troca de respeito com os fios. O processo é lento, mas de constante aprendizado e testes. “Quando resolvi fazer tranças coloridas pela primeira vez, no tom de rosa, parecia uma aberração saindo da Galeria do Rock. Mas, olhando no espelho, me senti linda”, diz Magá.

A ousadia de Magá virou referência quando a influenciadora Josy Ramos (@josyramos), 27 anos, passou pela transição capilar. “Um amigo me mostrou a foto dela com tranças castanho e resolvi fazer”, revela a carioca. O penteado durou alguns anos, até que o encontro com o próprio caminho falou mais alto. “Em um intervalo de troca das tranças, me olhei no espelho e chorei ao ver meus cachos”, lembra.
As imposições acompanham a mulher negra de diferentes formas. No caso das afropatys, a pluralidade de estilos e pensamentos mostra que nem todas vão usar o mesmo cabelo ou se vestir igual. “Sempre fui muito autêntica, então uso cor mesmo ouvindo que o chique é ser minimalista”, diz Josy.
Rolê afro
Nos filmes adolescentes, patricinhas não-negras nunca andam só. Porém, na vida real, as memórias da juventude das pretas patrícias não são só flores. Nascida no interior da Bahia, Magá veio para São Paulo com 6 anos, junto dos irmãos e da mãe, que acumulava horas de trabalho para garantir o estudo dos pequenos. Magá naturalizou o bullying na escola para sua própria sobrevivência.
“Num certo momento, não ligava mais. Eu me sentia acolhida pelos amigos da minha irmã, que curtiam rap como eu. Eu me vestia como eles para evitar qualquer tipo de interesse e desconforto no transporte público”, conta.
O estilo perdurou até ela entrar na faculdade de relações públicas, onde podia contar nos dedos de uma mão as pessoas negras que estudavam na instituição. “Éramos três alunas. Fiz a minha primeira amizade negra com uma delas, uma menina empoderada com quem compartilhava interesses. Íamos montadas pro rolê de rap e discutíamos questões raciais”, diz Magá, que se viu novamente sozinha após se afastar dessa parceira.

A aproximação com a negritude, pessoal e coletiva, foi retomada com outra amiga, a Loo Nascimento (@neyzona), em um curso de marketing. “Ela me apresentou vários pretos que viraram meus amigos. Antes da pandemia, fazíamos a confraternização dos pretrícios em restaurantes chiques. Éramos a atração dos lugares, que normalmente só tinham pessoas brancas. Quanto mais consciência racial a gente tem, mais cansado fica diante de certos comportamentos. Não consigo me identificar mais com pessoas que eu era grudada antigamente”, explica.
Abrimos mão de certas coisas para usufruir do que entendemos como prioridade
Monique Evelle
Após se formar, Magá passou uma temporada em Londres, que bancou com o dinheiro economizado do estágio. Lá, encontrou conforto para ser ela mesma. Seu estilo não era mais alvo de olhares de julgamento, mas de admiração, inclusive de fotógrafos de renomadas publicações de moda. Rendeu a ela trabalhos com gigantes do segmento de street e sportwear, que a seguiram no seu retorno ao Brasil.
Em São Paulo, a decoração do seu apartamento, o Magaloft, espalha cor e endorfina pelo feed de quase 250 mil seguidores no Instagram. Se a Associação das Pretas Patrícias pode ter a música de MC Taya como hino, o lar da empresária é o QG do sonho para as pretrícias.

Por falar em sonho, essa é uma palavra recorrente nas trajetórias das mulheres negras em busca de ascensão. Uma relação delicada, já que a realidade muitas vezes poda essa aspiração. Aí vem o peso de uma família que impulsiona. “Meus pais nunca falaram que eu não conseguiria, ainda que não tivéssemos dinheiro para luxo algum”, conta Josy, que, após abandonar a carreira corporativa, mergulhou no universo da moda e da internet.
O emprego como vendedora de uma famosa rede de roupas ficou para trás com a renda que a carreira de influenciadora lhe trouxe. “Nunca imaginei que realizaria meus desejos, ainda mais dessa forma. Com as redes sociais, mostro para as seguidoras que elas podem e devem acreditar em oportunidades”, afirma.
O pensamento vai ao encontro do posicionamento de Magá também. “Quero que minha militância seja mostrar às pessoas minhas conquistas e apontar que elas também podem ter as suas e criar seus caminhos”, diz a influenciadora, ressaltando que, infelizmente, nem todos vão ter as mesmas chances. “Empretecer o termo patricinha é muito foda, porque mostra o rolê da nossa conquista. Somos os nossos próprios ‘pai rico’ e ‘donas da lancha’. Dá muito orgulho ser preta patrícia e bancar sonhos. ”
O que é mieloma múltiplo e como tratá-lo