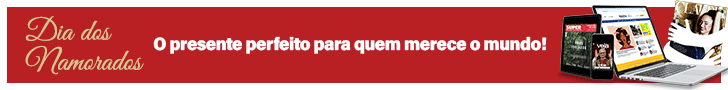Fátima Diaz, professora de escola rural
O ensino à distância, prática que se tornou rotineira para os estudantes durante a pandemia da Covid-19, é, na realidade, um privilégio inacessível para 21% dos brasileiros que ainda não possuem internet em casa, segundo dados de 2018 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), os mais recentes disponíveis.
A professora Maria Fátima Diaz, 52 anos, é testemunha dessa desigualdade. Educadora há três décadas, ela é a única docente de uma escola localizada na fazenda Cerro Porã, em Porto Murtinho, município de cerca de 15,5 mil habitantes na fronteira entre Mato Grosso do Sul e Paraguai.
Para impedir que seus alunos, com acesso precário à internet, fossem prejudicados, ela viajou quinzenalmente 90 quilômetros até a casa deles para entregar os materiais de estudo. “Eu os via muito tristes com a situação; então, levava doces também e uma vez decorei todo meu carro com balões e cheguei buzinando. Eles ficaram muito felizes”, relata.

A nova rotina, porém, veio cheia de desafios – desde dirigir pela área rural e lidar com um pneu furado até garantir o mínimo de aprendizagem às crianças neste ano atípico, que promete penalizar ainda mais os alunos do ensino público e distantes dos grandes centros. “Neste momento, o trabalho é frustrante. Como vamos tirar as dúvidas de uma criança se não podemos dar aula para ela?”, questiona Fátima, que arca com as despesas das viagens.
Quando necessário, nas visitas rápidas, a professora improvisa uma mesa em frente à casa do aluno para responder a algumas perguntas. “Uma menina aprendeu a fazer multiplicação dessa forma. Um garoto entendeu melhor as formas geométricas analisando a porta de casa, a janela e um copo”, conta.
Os níveis de aprendizagem na escola dela são diversos, atendendo desde crianças da educação infantil até adolescentes do ensino fundamental. Há ainda o risco de, após a pandemia, os alunos não retornarem para os bancos escolares devido à falta de estímulo e ao esforço para estudar – movimento que professores como Fátima tentam deter. Quase sem apoio institucional, ela pede que o poder público e a sociedade olhem com respeito o trabalho que educadores, principalmente os da zona rural, vêm desempenhando para que este não seja um ano perdido na educação.
Juliana Camargo, ativista pela biodiversidade
As imagens do Pantanal sendo consumido pelas chamas até restarem apenas campos cinza, sem vida, comoveram o país. Até o ano passado, era um dos biomas brasileiros mais preservados, com 84% de mata nativa.
Os registros de incêndios na região foram os maiores desde 1998, quando o monitoramento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) começou, resultado da soma de tempo seco com queimadas criminosas. Estima-se que um quarto do território tenha sido destruído pelo fogo – mas a dimensão do estrago ainda pode demorar algum tempo para ser determinada.
A morte da vegetação nativa de diversas áreas de preservação ambiental só não impressionou mais do que as imagens de onças-pintadas, tamanduás-bandeira, antas e outras espécies ameaçadas de extinção agonizando em meio à fumaça.

“Vendo a falta de ação robusta de órgãos governamentais para conter aquele extermínio, percebi que precisava estar lá, chamar a atenção e articular algum amparo para os bichos”, conta a paranaense Juliana Camargo, 39 anos. Ela é cofundadora da organização Ampara Animal, que no início atuava com bichos de rua e, em 2016, se desdobrou para preservar espécies silvestres.
As denúncias dela e de outros voluntários para o fato de que o Pantanal estava abandonado à própria sorte foram ouvidas e, em duas semanas, a vaquinha aberta por ela captou 2,3 milhões de reais, destinados a salvar parte da biodiversidade local. “Encontramos a completa ausência de articulação pública para lidar com aquele tipo de emergência; por isso começamos do zero. Achávamos que precisaríamos de um mês por lá, mas estamos há seis e não devemos sair tão logo”, conta ela, que passou oito temporadas na região este ano, retornando a São Paulo ocasionalmente.
Com os recursos captados, Juliana e outros voluntários fazem resgate de animais feridos, que não param de chegar, além de cuidar de outras dezenas que ainda vão ter que esperar para voltar à mata e encontrar suas presas, retomando o ciclo natural. “Sabemos que esse não será o último incêndio, mas esperamos que as estruturas de longo prazo montadas com as doações nos deixem preparados para agir rapidamente e salvar mais vidas.”
Alzira Nogueira, voluntária em comunidades
Logo nos primeiros meses do isolamento no Brasil, a servidora pública Alzira Nogueira da Silva, 48 anos, passou dias nas ruas de Macapá, onde conseguiu ajudar na distribuição de mais de 6 mil cestas básicas. Em comunidades e periferias das cidades brasileiras, o esforço de pessoas como ela se tornou crucial para colocar comida na mesa de famílias cuja renda foi ceifada pela crise sanitária.
Muita gente não obteve nem sequer acesso ao auxílio emergencial. “Quem mais sofreu foram as mulheres negras, porque enfrentaram a perda de entes queridos enquanto eram afetadas por uma piora da situação prévia de vulnerabilidade social”, observa Alzira, voluntária do Centro de Atividades Sociais da Periferia (Casp), da Central Única das Favelas (Cufa) e da organização Amapá Solidário.
A calamidade se agravou quando, em novembro, 13 dos 16 municípios do estado ficaram no escuro após um incêndio em sua principal subestação de energia elétrica. Cerca de 765 mil amapaenses se viram sem eletricidade, o que afetou não só as casas de famílias e o comércio mas também o atendimento em hospitais.

A partir de então, foram três semanas de difícil acesso a refrigeração para alimentos, internet, caixas eletrônicos e água potável – sem contar as escassas oportunidades de comunicação para mostrar ao restante do país a gravidade da situação. Para um dos estados brasileiros mais carentes, a combinação das duas crises foi explosiva.
Poucos dias antes, Alzira havia testado positivo para Covid-19, o que a manteve afastada da mãe, de 80 anos, e da filha, de 8, e a obrigou a parar com o atendimento. “Consegui um jeito de carregar o celular e trocar mensagens pedindo recursos e donativos”, conta. Com esse esforço, mais mil cestas chegaram.
“Quando o problema se restringia à pandemia, nossa preocupação era, além de comida, conseguir máscaras e álcool em gel. Com a nova situação, faltava tudo.” Para ela, é preciso ser uma fortaleza para manter a esperança em meio ao caos e ao abandono que as comunidades enfrentam: “Não podemos parar para sofrer, senão perderemos ainda mais gente”.
Érika Souza, atleta do basquete nacional
Estar nas quadras de basquete nem sempre foi uma questão de paixão para a jogadora da seleção brasileira Érika Souza, 38 anos. A trajetória da carioca no esporte deslanchou por causa do desempenho notável e da necessidade de usar aquelas habilidades para ajudar financeiramente a família.
Deu certo. Em 22 anos de carreira, a pivô foi a quatro olimpíadas, ganhou títulos na ligas americana e espanhola e, em 2019, levou o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima.
Ao se aproximar da aposentadoria, ela se desafia a deixar um legado para as próximas gerações de meninas no basquete, a começar por questionar a desigualdade de gênero que ronda o esporte no Brasil. Elas têm menos chances de competir em alto nível e, mesmo quando atingem o topo, nem sempre contam com as mesmas estruturas e incentivos que seus colegas homens.

Neste ano, Érika se tornou uma ativista da causa e batalhou para conquistar o apoio da Liga de Basquete Feminino, com quem lançou o movimento Levante a Bola Delas, pedindo a merecida atenção às atletas da modalidade – esforço que se espalhou para outros esportes.
“Não me importo tanto com ser cestinha ou bater recordes; quero saber que fui a geradora desse rebuliço, dando o pontapé na busca por nossos direitos, ato que, espero, terá continuidade nas próximas gerações”, afirma ela, que viveu as dificuldades de tantas garotas para obter patrocínio, resistir à escassez de equipamentos e à ausência de formação de base.
Érika notou cedo que, quando os recursos minguavam, os cortes eram feitos primeiro nos times femininos tanto na seleção quanto nos clubes – questões que frequentemente passam ao largo das equipes masculinas. “Tudo o que eles fazem, nós conquistamos também, lidando com menos oportunidades”, diz.
Ela já percebe resultados no processo. Entre eles algumas novas iniciativas para a equipe sub-18 prometidas pela Confederação Brasileira de Basquete para o ano que vem. “Gostaria de ver mais meninas jovens tendo a chance de se desenvolver no esporte desde cedo, de competir e viajar para estarem prontas quando adultas”, defende. Apesar dos avanços, ela sabe que ainda está distante o momento de encerrar o ataque.
Eliane Tricarico, enfermeira da linha de frente
Desde o começo de 2020 a pandemia do novo coronavírus toma os noticiários. Assim se desenrolou o ano, com a evolução do número de casos e de mortes e o Brasil atingindo patamares elevados em comparação ao restante do mundo. Até 6 de dezembro, ultrapassávamos os 6,6 milhões de diagnósticos e 176.962 mortes, de acordo com levantamento do consórcio de veículos da imprensa.
Aprendemos não apenas a honrar as vítimas mas também a celebrar os profissionais que, em meio ao risco, trabalharam incansavelmente para reduzir as perdas. Muitos se infectaram e morreram. A pandemia nunca deu mostras significativas de estar controlada e, mesmo nos momentos em que os números de casos e óbitos declinavam, médicas, enfermeiras, fisioterapeutas e outros especialistas continuaram atuando sob pressão e medo. Nos últimos meses do ano, hospitais do Brasil todo voltaram a registrar altas taxas de ocupação, deixando ainda mais turva a projeção do fim da situação.

Quando, em março, chegou o primeiro paciente com Covid-19 na instituição de referência para a doença no Rio de Janeiro, o Hospital Ronaldo Gazolla, a enfermeira Eliane Tricarico, 43 anos, e os colegas ainda não sabiam exatamente como lidar com a infecção pelo vírus.
“Não tínhamos EPIs adequados nem informação completa sobre como evitar o contágio, mas os meses seguintes foram essenciais para aprender”, conta ela, que também trabalhava como socorrista do Samu e ao lado do marido, Leonardo Santos, nos hospitais. O medo inicial foi se dissipando. Em maio, Eliane atuou como supervisora de enfermagem do turno noturno do recém-inaugurado hospital de campanha do Maracanã, liderando 116 técnicos de enfermagem.
São esses os profissionais, em sua maioria mulheres, que estão ao lado dos pacientes a maior parte do tempo. “Em 17 de julho, chegamos para o turno e vimos os pacientes serem transferidos. Fomos dispensados sumariamente sem nem ao menos um agradecimento”, afirma. O hospital deixou de atender, e o pagamento do salário daquele mês precisou ser disputado na Justiça. “Só reforçou a força dos profissionais que abriram mão de tanto para salvar vidas”, afirma.

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO