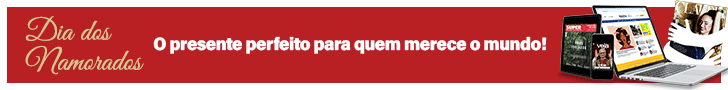Doutora em antropologia e professora da Universidade de São Paulo, Lilia Moritz Schwarcz busca na história brasileira indícios que possam nos ajudar com a crise social, política e econômica causada pela Covid-19
Exercícios de futurologia não costumam trazer respostas consistentes, funcionam apenas como uma válvula de escape para quem busca, em meio a situações dolorosas, conforto no conhecido, no estável. Apesar dessa falta de exatidão, as previsões têm sido uma constante desde o começo da pandemia, que logo trouxe a quarentena. Criou-se um termo para designar o mundo pós-coronavírus. Surgiria o “novo normal”, um ambiente imaginário em que as pessoas seriam mais empáticas, respeitariam o meio ambiente, dariam mais valor à família após dividir a casa com parentes por meses. Imaginário talvez seja mesmo o melhor termo para definir essa expectativa. Com toda a complexidade do cenário que a Covid-19 nos trouxe, é raso pensar que o final da pandemia será um conto de fadas. Ainda mais em se falando do Brasil. “É um país muito desigual. O grupo social que cria esse sonho da normalidade o faz de dentro de uma bolha”, explica a historiadora e antropóloga Lilia Moritz Schwarcz. Para os estudiosos, mais do que essas antecipações, o que ajuda a compreender os desdobramentos de um processo com tamanha implicação social como este é olhar para o passado. A história guarda elementos que tendem a se repetir, especialmente quando são mal resolvidos.
Estudando a gripe espanhola de 1918, por exemplo, Lilia, que lançou no ano passado Sobre o Autoritarismo Brasileiro (Companhia das Letras), encontrou diversas semelhanças com o que vivemos atualmente. Também naquela época, os estados tomaram decisões independentes e específicas. “Com a diferença de que o Ministério da Saúde só seria criado em 1930. Portanto, não houve brigas entre autoridades do Executivo e órgãos da saúde, como vemos atualmente”, destaca. Ela também relata um movimento forte de solidariedade, de cidadãos mais ativos na ajuda ao próximo, algo que presenciamos nos dias de hoje. “A lição fica no desenvolvimento da doença, pois, assim que os números mostraram sinal de queda, os brasileiros se esqueceram da urgência dela. E aí veio uma segunda onda muito letal. Não façamos da memória um esquecimento desta vez”, alerta. Não existe caminho fácil após a crise. É improvável que um dia simplesmente acordemos livres do coronavírus para pular um Carnaval em comemoração. A sociedade será, sim, diferente: crescerão a disparidade social e o desemprego, e grupos de apoio, como ONGs, correm o risco de encerrar as atividades, deixando mais pessoas desassistidas. A quem puder cabe assumir uma postura de luta por si e pelo próximo quanto antes. “É fundamental praticar uma vigilância cidadã. Eu nunca fui fã das redes sociais, mas parti para esse espaço porque lá está acontecendo a batalha pelas narrativas, e é importante que a gente não fuja desse lugar de ação”, acrescenta Lilia. De sua casa, em São Paulo, ela faz uma reflexão sobre como (e se) formaremos uma memória coletiva da pandemia e dos desdobramentos políticos que ela pode trazer.
Por que ter uma noção de futuro, por mais imperfeita ou irreal que seja, é tão importante para o ser humano?
As sociedades ocidentais não foram preparadas para lidar com a morte e o luto. Nós criamos, sobretudo no século 20, essa ideia de que a tecnologia nos redimiria, ou seja, salvaria o corpo doente, arrumaria o que não é perfeito, retardaria o envelhecimento. Criamos a ideia de que somos infinitos, e essa concepção foi muito divulgada, virou o chamado normal. Esse tipo de perspectiva faz com que toda situação que abale essa tal de normalidade seja, num primeiro momento, recebida com grandes doses de negacionismo. A reação coletiva é, a princípio, pensar que isso não está acontecendo; que não vai atingir a mim, nem meus amigos, nem minha cidade. Mas aí vem a pandemia e derruba essa impressão. Eu tenho dito que o século 20 acabará junto com a pandemia. Vivemos nesse século a era das ciências, do positivismo. Estávamos condenados ao progresso. A tecnologia virou uma constante e ela é prepotente, quer nos fazer imortais. As pessoas preferem um bom remédio instantâneo do que o tratamento a longo prazo. Acho que a humanidade continuará com esse comportamento. Em algum momento vamos ter a vacina para essa doença, mas não para a nossa prepotência. Não para o racismo, a estigmatização, a xenofobia, todos processos que surgem com a pandemia. Eu temo que a humanidade não aprenda: sofra e se levante só para depois cair de novo.
Você cita essa normalidade que criamos e já tem muita gente cravando um “novo normal”, construindo um ideal de mundo por meio de previsões. É, outra vez, a urgência por uma noção de futuro, por estabilidade e segurança?
A gente não pode falar em plano de futuro para os brasileiros. Somos uma nação dividida. O chefe do Executivo está governando na base da polarização. Pensar em um “novo normal” é um conceito conservador e retrógrado porque busca criar um padrão, dá a ideia de algo universal. Em um país desigual, como o Brasil, isso não existe. A classe média alta vive em lares – não casas, lares –, enquanto mais de 25% da população mora em casas com um cômodo habitadas por mais de seis pessoas. Quase metade dos brasileiros não tem esgoto, água confiável. O “novo normal” é para quem? Essa é uma tendência antiga, porque as classes altas sempre escreveram a história e consideraram suas experiências de universal. Por que chamamos algumas coisas de arte e outras de artesanato? Quem decide essa divisão? Não incluir outros povos e visões é algo que deve ser questionado. O grupo social que cria esse sonho da normalidade o faz de dentro de uma bolha. Nesse pensamento, nada vai mudar. A classe mais baixa não vai subir, continuará existindo essa sociedade do consumo em que alguns alcançam e outros se frustram. Estamos em casa e há mais dados de feminicídio, infanticídio, então não faz sentido falarmos de mais igualdade na distribuição de tarefas entre os gêneros. A educação remota é para uma elite; afinal, uma em cada quatro pessoas não tem internet no Brasil. E mesmo quem recebeu material impresso do governo, no caso das escolas públicas, às vezes não tem lápis e borracha ou não pode contar com os pais para ajudar no processo. A ideia de “novo normal” esconde a desigualdade, e o que a pandemia está fazendo é escancará-la.

Algumas personalidades da internet afirmaram que o vírus iguala a todos nós, ou seja, ainda se recusam a enxergar esse abismo que existe no acesso à saúde. Já superamos as 25 mil mortes. O que é preciso para que as elites reconheçam a bolha e optem por estourá-la?
Existe uma elite cercada pela ideia da sua realidade e que não vê além dela. Não estou diminuindo o sofrimento de ninguém neste momento, cada um terá o seu. Mas, na realidade, há distinções. Basta olhar para os hospitais de elite e os públicos, os números de leitos ocupados, a chance de sobrevivência. Ao escrever Sobre o Autoritarismo Brasileiro, eu levantei dois pontos importantes. O primeiro é que nosso presente está lotado de passado. E, depois, que sempre fomos um país de autoritários e intolerantes. O Brasil não é pobre, é extremamente desigual. Há uma elite que convive entre si sistematicamente, sem ter que olhar para o macro do que a nação vive. São as zonas de silêncio. É uma elite que fala de solidariedade, faz doações e assim se redime de provocar mudanças de questões estruturais profundas. Eu adoraria que a elite saísse da crise com um propósito. E não faltam áreas de necessidade. Por exemplo, todo país tem um exército de reserva para uma possível guerra, mas não estávamos preparados para uma luta contra um vírus na saúde. E pandemias acontecem, aparecem de tempos em tempos. Fora isso, não faltam alertas sobre o meio ambiente. Estamos acabando com a água, a terra. Precisamos acordar. O governo fechou os olhos e as queimadas crescem, o desmatamento bate recordes. É o “novo normal” do cobertor curto: você puxa de um lado e descobre do outro.
A perspectiva de recuperação para o Brasil é sombria. Como a perda coletiva, esse grande luto, pode nos afetar socialmente?
Nunca participamos de grandes guerras internacionais longamente, essas experiências de perda tão profundas. Mas o Brasil tem, sim, convivência diária com o luto. É um país com história de violência. Foi o último a abolir a escravidão, teve diversos movimentos de resistências combatidos de maneira agressiva. O problema é que a memória coletiva não anotou os dados de luto. Hoje, com a pandemia, temos números de um genocídio. Estamos matando uma geração de jovens negros nas periferias. Mas o país nega esse luto. Não falamos de passado violento e tenho medo de que isso se repita agora. Os psicanalistas levantam a importância de viver o luto, mas não sei se na máquina do cotidiano isso está acontecendo nem como será depois. Entretanto, observando a história e pandemias anteriores, dá para dizer que sociedades que não fazem o processo do luto não guardam a memória sobre o que acontece, são condenadas a voltar a essas situações.
“Em algum momento vamos ter vacina para essa doença, mas não para a nossa prepotência, o racismo, a xenofobia, que surgem com a pandemia”
A sociedade brasileira está muito polarizada, um movimento que se intensificou nos últimos dois anos e agora parece ter atingido o pico. A pandemia tende a unificar ou a separar mais?
É muito difícil falar no plural, mas a pandemia só acirrou a polaridade até aqui. Temos como chefe do Executivo uma pessoa com respostas ambivalentes, que nega os protocolos das organizações de saúde, dá maus exemplos, entra em aglomerações. Mas ele foi eleito com mais de 50% do eleitorado. E vai mantendo os fiéis 30% de seguidores. Para esse público, acho que ficará mais forte essa demarcação de território. Para o restante, tem que ver até onde vai essa onda de solidariedade. Vimos coisas lindas, gente fazendo compras para idosos, doações. Nas favelas, pessoas se organizaram para administrar a falta de suprimentos.
Sabemos que grupos vulneráveis, como de mulheres, pessoas negras, povos originários, a comunidade LGBT+, tendem a ser os mais impactados durante e após a pandemia. Recentemente, causas caras a esses coletivos estavam ganhando espaço público de discussão constante. Acha que haverá muitos retrocessos?
O Brasil é um país de paradoxos. Tem a maior parada LGBT+ do mundo e também é número 1 nos assassinatos por homofobia. As brasileiras conseguiram criar novos agentes que estão na seara pública lutando pelos direitos delas e ainda assim somos campeãs nas taxas de feminicídio. Mas nem isso faz as pessoas retrocederem. Pelo contrário, é preciso lutar sempre, nenhuma conquista é definitiva. Os indígenas não vão calar sua luta pela conservação de sua cultura e do meio ambiente. Não acho que professores negros que estão nas universidades públicas vão sair por causa desse governo racista. Nem que as mulheres vão voltar para trás do fogão ou que a comunidade LGBT+ vá deixar de andar de mãos dadas.
Todas as mulheres podem (e devem) assumir postura antirracista

 SEGUIR
SEGUIR
 SEGUINDO
SEGUINDO